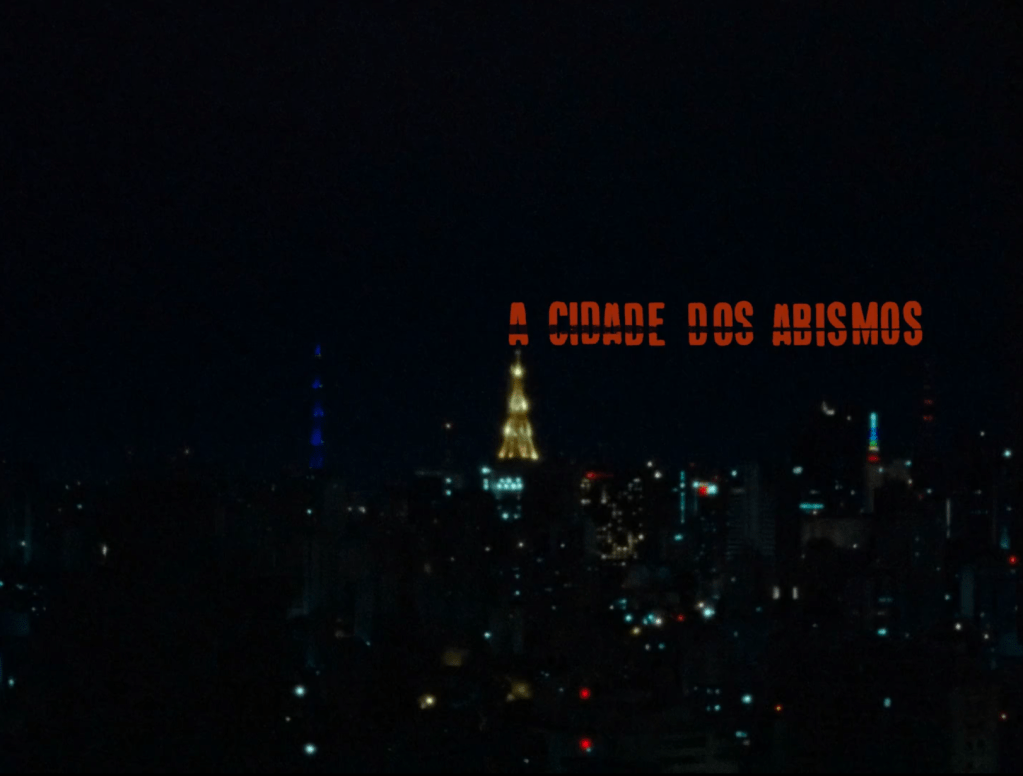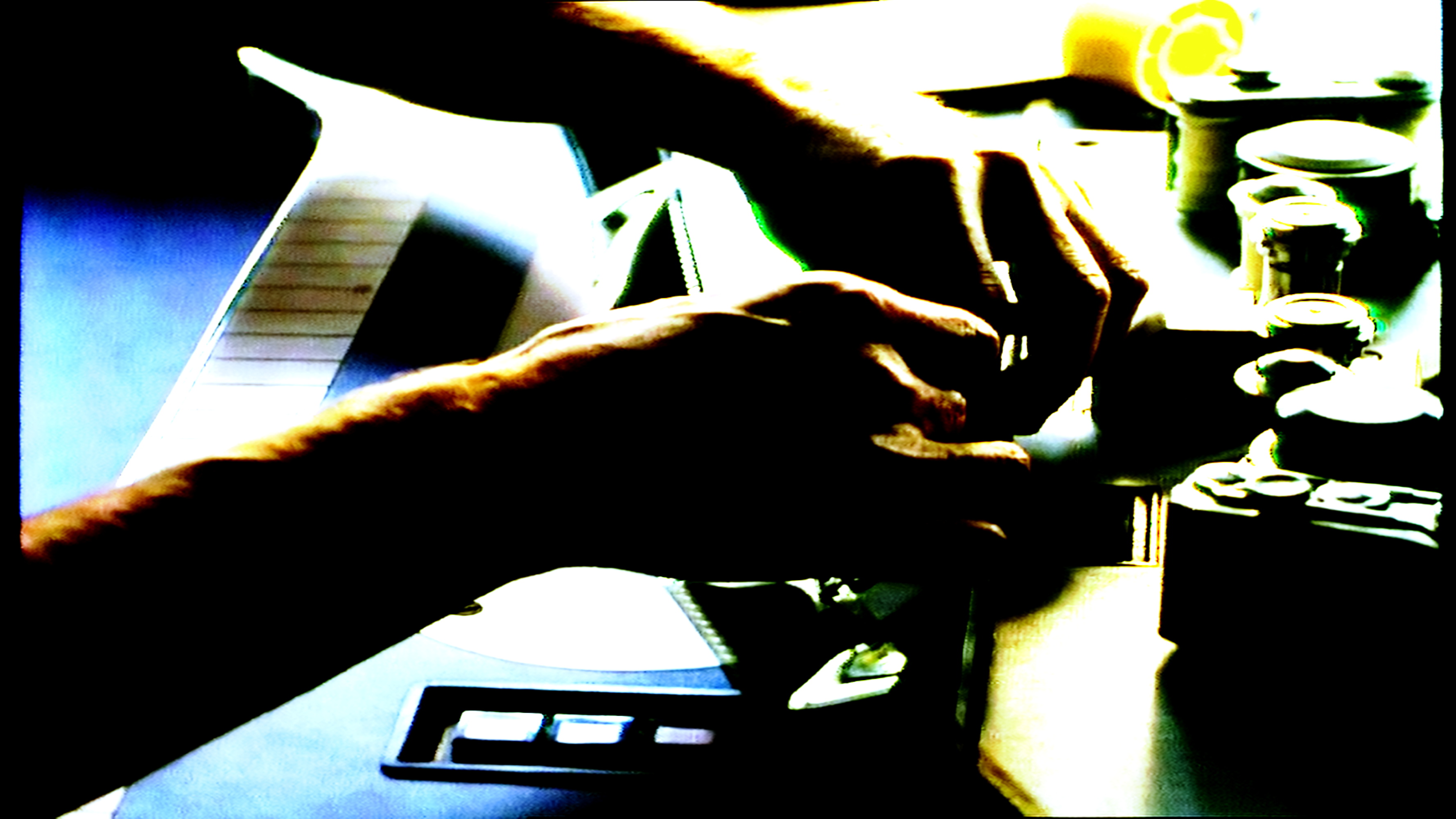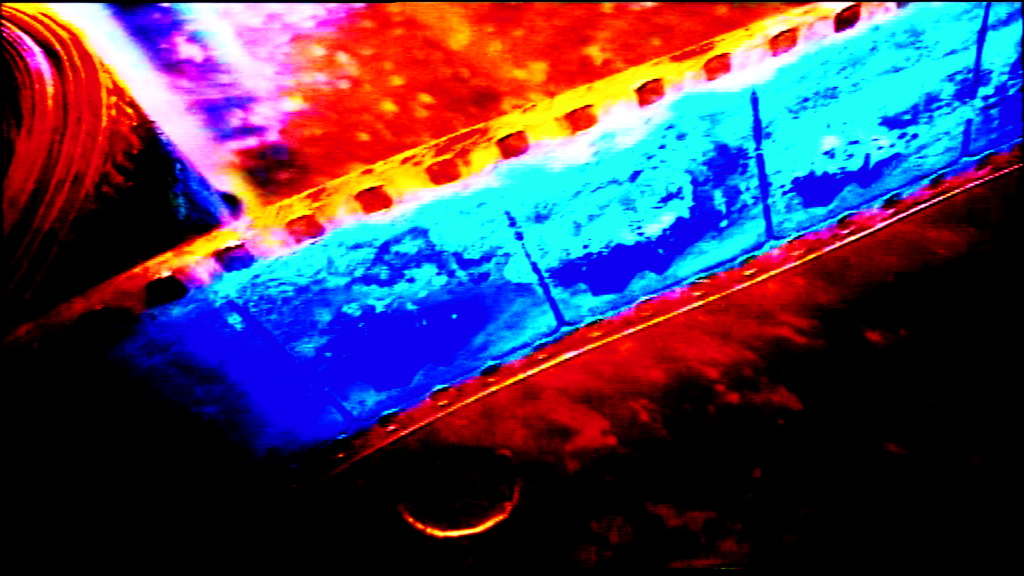Por Fernando Oriente
‘Blow Out – Um Tiro na Noite’, de 1981, deve ser encarado não apenas com uma das obras-primas de Brian De Palma – o que de fato ele é -, mas principalmente como um epítome dos elementos formais, temáticos, estéticos e discursivos da obra desse que é o mais talentoso realizador do cinema americano desde os anos 1970, ao lado de Cimino, Coppola e Abel Ferrara. De Palma surge dentro de um cinema moderno tardio, no qual ele chega como um cineasta que tem que lidar com o peso de toda uma história dessa arte, cuja época clássica já havia se encerrado desde o final da década de 1950 e cuja época moderna enfrentava seu esgotamento no momento mesmo em que ele começava a realizar seus longas; como afirma Alain Bergala, a respeito desse período histórico, em seu ensaio ‘De Certa Maneira’.
O texto de Bergala é sobre o maneirismo cinematográfico e, falar sobre ‘Blow Out’, bem como de toda a obra de De Palma, nos remete obrigatoriamente à questão do maneirismo e alguns de seus conceitos centrais. Os anos 1970, e principalmente os 80, foram marcados por cineastas maneiristas dos mais distintos estilos, que dentro dessa estética produziram filmes que vão da mediocridade (Jean-Jacques Beineix, Luc Besson e vários outros) até a excelência (Brian De Palma, Dario Argento, Raul Ruíz, Philippe Garrel, Coppola, entre outros). São realizadores que “chegaram ‘tarde demais’, depois que um ciclo da história de sua arte já havia sido completado e uma certa perfeição atingida pelos mestres que lhes tinham precedido de perto.” (Bergala).
Essa conceitualização nos permite definir o maneirismo no cinema como uma estética cujos filmes se inscrevem em um jogo de relação entre uma (ou mais) obra originária e uma obra segunda – o filme maneirista -, obra esta que opera a partir da primeira e a ela se remete sempre, num trabalho de distorção, de exageração e de reconfiguração figurativa e narrativa (Fabien Boully). O maneirismo em Brian De Palma é potência criadora, que permite o diretor realizar filmes que transcendem qualquer rótulo. O que De Palma cria em ‘Blow Out’ é uma obra nova; um novo que, como simulacro maneirista, remete a outro cinema, a outras imagens, mas de uma maneira em que o filme acaba por promover novos sentidos e significações daquilo que emula.

‘Blow Out’ parte de duas obras canônicas – duas “obras originárias”: ‘Blow-Up’ (1966), de Antonioni, e ‘Vertigo – Um Corpo que Cai’ (1958), de Hitchcock – o cineasta fetiche de De Palma, aquele a cujos filmes ele irá sempre remeter. O filme acompanha, logo em seus primeiros 20 minutos, Jack (John Travolta), um engenheiro de som que ao captar ruídos para utilizar em um filme de terror de baixo orçamento, acaba por registrar os sons de um acidente de carro que resulta na morte MacRyan, o candidato favorito na próxima eleição à presidência dos EUA. Após o acidente, Jack mergulha no rio em que o carro caiu e consegue resgatar de dentro do veículo a jovem Sally (Nancy Allen), ao mesmo tempo em que constata que o homem que estava ao seu lado já está morto. Sem saber quem era o cadáver, ele leva Sally ao hospital e lá descobre que o defunto era MacRyan.
Logo na sequência, em uma cena primorosa, vemos Jack ouvindo os sons que registrou na noite do acidente. De Palma constrói esta cena intercalando os sons captados pelo personagem de Travolta com imagens da noite do acidente. Cada som faz Jack ( e o espectador) rever o que ele via ao captar o áudio. Brian De Palma sobrepõe som e imagem, fazendo com que banda sonora evoque não apenas aquelas imagens primeiras que vimos no início, mas novas imagens, que surgem a partir daquilo que os ruídos revelam e que estava oculto numa primeira impressão (imagem) sobre o acidente. No áudio registrado por Jack ouve-se o som de um tiro que antecede o barulho da explosão do pneu do carro. Ao perceber o que realmente o correu, ele procura Sally e, ao lado dela, os dois se jogam em uma investigação para provar que MacRyan foi assassinado.
A partir desse mote, Brian De Palma fará de ‘Um Tiro na Noite’ tanto um thriller de investigação – em que os fatos vão sendo revelados ao mesmo tempo em que os protagonistas passam a serem perseguidos por Burke (John Lithgow), o assassino de MacRyan – quanto um estudo sobre o estatuto da imagem cinematográfica, seus índices de falsidade e veracidade. Em De Palma as imagens aparecem sempre primeiro sob o signo do falso mas, por meio do discurso dramático e ao longo da evolução narrativa, serão questionadas até que a verdade (ou uma verdade) possa emergir daquilo que a própria imagem primeira recalcava.

Em ‘Blow Out’ o som – e toda a banda sonora – irá assumir um papel central, mas apenas e porque o som remete, se direciona e engendra sempre uma imagem; o som como fonte de investigação, questionamento, construção e objetivação da imagem. O som, por meio das imagens que ele faz surgir, vai invocar um elemento central no cinema De Palma: o questionamento sobre o que uma imagem simula e falseia e, ao mesmo tempo, o que ela carrega – de forma latente e indicial – como possibilidade de interpretação daquilo que está submerso sob esse simulacro imagético.
Em ‘Blow Up’, Antonioni parte da imagem fotográfica para questionar o estatuto ontológico e discursivo da representação imagética, bem como reflete sobre os índices do real que uma imagem pode conter ou representar, ao mesmo tempo em que destila de maneira notável comentários sobre um mundo pós-moderno que estava perdendo todos os seus alicerces. Em ‘Blow Out’, De Palma retoma Antonioni por meio do processo maneirista e, sem nunca tirar o peso e o “foco” sobre a imagem cinematográfica, parte do som como índice primário, mas apenas para fazer com que a partir do som as imagens se configurem, se multipliquem, reinterpretem-se sobre si mesmas, mintam e acabem por levar à verdade – a verdade de um Estados Unidos bem distante dos delírios de felicidade ingênuos e capitalistas do american way of life e dos happy ends.
No desenrolar de sua investigação, Jack descobre que Sally havia sido contratada para seduzir MacRyan e levá-lo a um lugar onde Karp, o parceiro da jovem no golpe, pudesse fotografar os dois em situações comprometedoras. Essas fotos seriam usadas para destruir a imagem do candidato, um homem casado. Essa descoberta não afasta Jack de Sally, mas oferece a possibilidade para que ele (e De Palma) consiga solucionar o fato de ter apenas o som, mas não as imagens do acidente. Karp fotografou toda a queda do carro no rio, na intenção de registrar MacRyan com uma mulher bonita e desconhecida dentro de seu próprio carro, mesmo sem saber que o veículo seria atacado por Burke. Com a ajuda de Sally, Jack irá pegar os negativos originais das fotos e montá-las, em uma moviola, junto aos áudios que gravou, construindo assim um pequeno filme, com suas devidas imagens e sons síncronos, que comprovam o assassinato.
No maneirismo de De Palma, em sua hipervalorização da técnica, no fascínio que suas imagens provocam, no brilhantismo de sua mise-en-scène, podemos perceber aquilo que Luis Carlos Oliveira Júnior chama de uma hiper-mise-en-scène, que ele define como “uma complexificação das técnicas, dos estilos, das formas. A construção de dispositivos plásticos cada vez mais intricados, de sistemas visuais, (…) desde a simples composição de um plano, enquadramento, posicionamento dos seus elementos plásticos até a ideia da construção geral do filme.”. A forma para De Palma é sempre um canal de escoamento do conteúdo; pela exuberância dos elementos formais, seus filmes promovem de maneira mais intensa o discurso dramático e suas camadas, ou seja, o dito “conteúdo”.
E o eixo central do cinema de Brian De Palma é justamente sua mise-en-scène; o uso que ele faz de todos os seus elementos constitutivos na confecção de narrativas baseadas na potência das imagens. Para De Palma tudo está na imagem e, ao mesmo tempo, nas dúvidas que cada imagem carrega e nas possibilidades estético-dramáticas que elas engendram. E ‘Blow Out’ sintetiza de forma brilhante esse seu devir cinematográfico, em que os rudimentos do maneirismo fílmico são trabalhados de maneira preciosa, sobretudo pelo uso extremado da composição, o refinamento de seus enquadramentos, o esplendor na composição dos quadros e a ênfase que ele confere a seus movimentos de câmera.
Duas sequências, entre muitas outras, de ‘Blow Out’ são exemplares para se apreender esses procedimentos. Quando Jack entra em seu escritório e percebe que todas as suas fitas de áudio haviam sido apagadas, De Palma nos faz acompanhar a angústia do personagem por meio de um falso plano-sequência de quase dois minutos de duração em que câmera gira ininterruptamente em uma série de panorâmicas de 360 graus. Cada volta completa da câmera pelo seu eixo revela, elipticamente, Jack revirando todo seu escritório e se desesperando ao constatar que todos os seus áudios foram destruídos. O efeito hiperbólico que De Palma imprime a essa cena não é nenhuma afetação formalista, mas sim um estilo magistral de registrar um acontecimento dramático-narrativo de uma maneira original e por meio de um procedimento estético em que técnica é trabalhada dentro de todo seu potencial expressivo, mas sempre em função de efeitos lógico-discursivos para o próprio continuum diegético.

A segunda dessas sequências é o longo clímax do filme, que começa quando Jack encarrega Sally de entregar o filme com o áudio do acidente para um repórter na estação central de metrô da cidade. Só que é o assassino Burke quem se faz passar pelo jornalista e vai ao encontro dela, enquanto Jack fica ao lado de fora da estação, escutando tudo por meio de um grampo que ele coloca em Sally. Ao perceber que algo está errado e que a garota está em risco, o personagem de Travolta sai a sua procura, sendo guiado apenas pelos sons que escuta. Ele precisará associar os ruídos que rodeiam Sally àquilo que seu olhar vê – e no cinema de Brian De Palma o olhar do personagem é o olhar do próprio cineasta, seja esse olhar materializado em planos subjetivos ou ubíquos, que em De Palma se confundem e se fundem constantemente. O olhar do realizador condiciona o olho do personagem, ao mesmo tempo que impõe e manipula o direcionamento do olhar do espectador.
A cada som ou fala de Sally, que Jack escuta e lhe fornecem uma informação geográfica de onde eles podem se estar, seu olhar (e a câmera de De Palma) terá que perscrutinar o ambiente para associar esses sons às imagens dos locais a que ele deve ir. Essa sequência irá culminar num desfecho virtuoso e arrebatador. À noite, em meio aos fogos de artifícios que iluminam e colorem o céu escuro durante a celebração do Liberty Day (o tradicional feriado estadunidense), através de planos em slow-motion, Jack corre em direção a Sally enquanto ela está prestes a ser assassinada por Burke. Ele chega tarde demais, mata Burke, mas Sally já não vive mais. Ajoelhado, Jack segura o corpo da garota, filmado em contra-plongé e com as luzes coloridas dos fogos a emoldurar o fundo do plano.
Além de uma potência extraordinária, esse desfecho remete e conclui a associação do filme a uma de suas obras originárias: ‘Vertigo – Um Corpo que Cai’. Assim como em seu passado Jack foi incapaz de evitar o assassinato de um policial que ele havia grampeado, ele também se mostra impotente em evitar a morte de Sally, a mulher que ele ama. Da mesma maneira como no filme de Hitchcock, o personagem de James Stuart é incapaz de evitar, por duas vezes, a morte daquela que ama.
Se o maneirismo parte de uma obra original e, por condensação, deslocamento, anamorfose e estetização a des-figura ou re-figura, ‘Blow Out’ é a constatação exemplar de como De Palma utiliza esses procedimentos maneiristas e os eleva ao patamar da excelência cinematográfica.

*Texto escrito por mim originalmente para o livro ‘A Arte De…’, da Versátil Home Vídeo, ampliado para esta publicação.